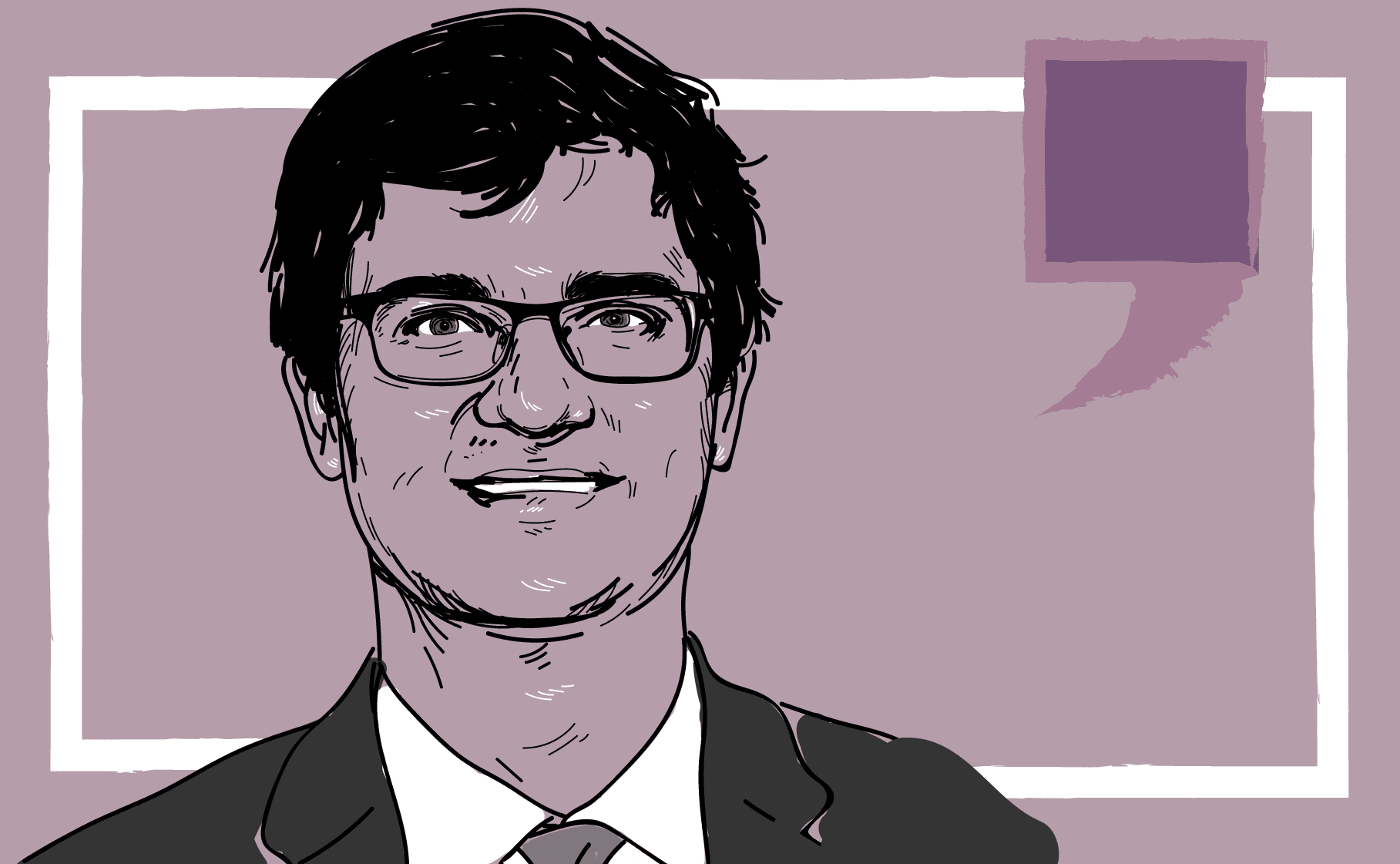Ilustração: Beto Nejme
O Airbnb anda às turras com as administrações municipais de importantes destinos turísticos. E a briga esquentou em Nova York. Recentemente, uma lei passou a exigir que a empresa forneça às autoridades locais informações detalhadas a respeito das pessoas que colocam imóveis para alugar por meio da plataforma. A determinação tende a afugentar os locadores que operam de maneira irregular — afinal, muitos burlam a proibição de locações por períodos inferiores a 30 dias na cidade. Se o Airbnb reluta em fornecer esse tipo de informação de terceiros, quem dirá apresentar voluntariamente seus números para rigoroso e periódico escrutínio de analistas e investidores. Em nome da manutenção de dados estratégicos nas mãos de poucos e da liberdade de dar retorno a seu tempo, a empresa até aqui desviou da tradicional trilha de captação de recursos por meio de oferta inicial de ações (IPO) no mercado americano — e não está sozinha nessa escolha. Cada vez mais as empresas da nova economia do século 21 parecem não se importar com uma listagem em bolsa. Até porque elas arrecadam dinheiro de outras formas: fundado em 2009, o Airbnb já recebeu cerca de 5 bilhões de dólares em investimentos. Atualmente, estima-se que o valor da companhia alcance quase 40 bilhões de dólares.
O caso do Airbnb ilustra um fenômeno notado já há um par de anos por acadêmicos e especialistas em finanças e comprovado pelas estatísticas. O mercado acionário americano aos poucos perde a aura “imperial”, caminhando para se transformar em um — ainda muito importante, é verdade — entre vários destinos possíveis para empreendedores dos Estados Unidos conseguirem dinheiro para tocar seus projetos de expansão. Detalhado estudo divulgado há dois anos pelo banco Credit Suisse (“The Incredible Shrinking Universe of Stocks”) mostra que o saldo líquido de listagens nas bolsas americanas caiu 50% entre 1996 e 2016, depois de ter apresentado alta de mesma monta de 1976 a 1996. O resultado? Hoje existem menos empresas com ações negociadas do que há quatro décadas. Não é pouca coisa. A gradual metamorfose se dá em uma engrenagem gigante, que no fim de 2016 representava 53% do mercado de ações global.
Outros tempos
Evidentemente, não é possível atribuir uma mudança dessa magnitude a uma razão específica. Foi uma combinação de fatores que levou as bolsas americanas a sair da casa de 7.322 empresas listadas, no auge de 1996, para terminar 2016 com a bem mais modesta marca de 3.671 companhias. A média anual de IPOs também declinou — passou de 282 entre 1976 e 1996 para média de 114 ao ano nas duas décadas seguintes. De acordo com os responsáveis pelo estudo do Credit Suisse, a diminuta propensão das empresas a se listar pode ser resumida por um conceito bem simples: análise de custos e benefícios. Isso vale para empresas de setores já consolidados e é particularmente relevante no caso das “disruptivas” empresas de tecnologia e das integrantes da economia de compartilhamento tão cara aos millennials.
Muitos fundadores de empresas nascidas entre o período do boom da internet, no final da década de 1990, e o início deste século parecem ter concluído que não vale a pena arcar com os pesados encargos relacionados a uma “ida a público” — dentre eles, regulação, taxas das bolsas, despesas relacionadas a prestação de informações periódicas e gastos com manutenção de acionistas e prospecção de novos. E os ônus não param por aí. As companhias listadas em bolsa enfrentam a pressão pública por resultados rápidos, além de facilmente poderem virar alvo de investidores ativistas. Por que então não procurar alternativas privadas para captar recursos ou ceder a investidas de fundos de venture capital, mais resistentes aos percalços inerentes à vida de uma startup?
Foi o que fizeram Airbnb e outras empresas, como Uber e Pinterest. Há também casos de empresários que provaram o gosto de ter sua companhia listada em bolsa e não gostaram. O polêmico fundador da Tesla, Elon Musk, é um exemplo. Ele usou recentemente sua conta no Twitter para anunciar a intenção de fechar o capital da fabricante de veículos elétricos, dizendo que a empresa operaria melhor sem tantas oscilações dos preços na bolsa — leia-se, nas entrelinhas, sem o mercado em seu encalço.
Venture capital e M&A
Para se capitalizar sem arcar com os ônus de listagem, muitas empresas se aproveitaram também da expansão dos recursos disponíveis no segmento de venture capital. Segundo o mais recente relatório “Venture Pulse”, elaborado pela KPMG, os investimentos nessa categoria somaram 84,2 bilhões de dólares no ano passado nos Estados Unidos — o maior volume desde a bolha das pontocom. As empresas de tecnologia e inovação contam ainda com a possibilidade de obter recursos por uma modalidade de investimento privado que ganhou força na última década: o corporate venturing, mecanismo em que uma companhia já consolidada atua como um fundo de venture capital, capitalizando empresas menores de seu setor, sobretudo startups.
Mudanças nos modelos de negócios também explicam a menor procura pelas bolsas de valores. Em geral, hoje as empresas precisam de muito menos capital para se expandir do que, por exemplo, no período de acelerado avanço da economia americana no pós-guerra. Naquele tempo, as indústrias necessitavam de grande volume de capital para comprar equipamentos e ampliar instalações. Atualmente, o Uber domina o transporte individual por aplicativo sem precisar ser dono de uma frota de carros. Os ativos agora são outros, e podem muito bem ser bancados sem que os empresários tenham que dividir seu poder com sócios desconhecidos em troca de capital.
Além desses fatores, uma certa decepção com o mercado acionário pode ter ajudado a pavimentar a estrada rumo ao financiamento privado neste século. “Muitas companhias que se listaram eram jovens, algumas com poucos anos de idade. Crescer era um desafio. Mas elas não performaram bem e o mercado acabou punindo-as de forma generalizada”, observa Jackie Kelley, chefe de mercado de IPOs nas Américas da EY, em conversa com a reportagem. “Hoje, as companhias que fazem IPOs já têm um capital privado robusto, formado por investimentos de venture capital ou private equity”, acrescenta.
Mais um aspecto responsável pela queda histórica nas listagens nos Estados Unidos é o crescimento expressivo das operações de M&A, seja entre empresas da “velha” economia ou das startups do nosso tempo. Veja-se o exemplo do Facebook. A empresa de Mark Zuckerberg comprou o aplicativo de mensagens WhatsApp antes que este pudesse ir diretamente ao mercado de ações. O Google fez o mesmo em relação aos então promissores YouTube e Waze. Apenas nesses casos, três empresas que teoricamente teriam condições para fazer IPOs mantiveram seu capital fechado, abocanhadas pelo apetite de players maiores — estes, sim, com ações negociadas em bolsa. “Em uma realidade de globalização e avanço tecnológico, empresas menores tendem a se fundir com companhias maiores do mesmo setor”, afirma o professor da Universidade da Flórida Jay Ritter, conhecido como “Mr. IPO” pela extensão de suas pesquisas sobre o assunto. Em um de seus trabalhos, ele constatou que, de 1990 a 1998, as vendas de empresas privadas eram igualmente divididas entre M&As e IPOs.
A realidade mudou drasticamente entre 2001 e 2017, intervalo em que as fusões e aquisições foram preponderantes (cerca de 90% das transações).
Também entra na equação que explica a queda das listagens o fator concorrência. Até há pouco tempo, o investidor americano não tinha muita escolha além dos ativos de alguma forma relacionados a ações e a títulos de renda fixa. Mas já não faltam alternativas inovadoras, como criptomoedas e financiamento direto de projetos por meio de crowdfunding. “Os investidores, sejam de grande porte ou pessoas físicas, hoje já não precisam se concentrar apenas em ações para obter rentabilidade”, observa Guilherme Sampaio, diretor de transações corporativas e líder de IPOs da EY no Brasil. E eles fazem bem ao diversificar suas apostas.
A consultoria McKinsey, em um trabalho de 2016 intitulado “Bracing for a new era of lower investment returns”, verificou que de 1985 a 2014 o mercado de ações americano entregou em média 7,9% de retorno a cada ano, enquanto os títulos do Tesouro do país renderam anualmente uma média de 5%. Mas, diz a McKinsey, “essa era de ouro acaba agora e os investidores precisam estar preparados para retornos substancialmente mais baixos”. Por mais baixos entenda-se entre 4% e 6,5% ao ano para as ações e 2% para a renda fixa nas próximas duas décadas.
Uma mudança importante no tamanho das empresas que acessam o mercado acionário igualmente contribuiu para as estatísticas das bolsas americanas. Professores das universidades da Califórnia e de Ohio debruçaram-se sobre os números das bolsas e concluíram, em estudo publicado em 2016, que 60% dos IPOs feitos no país na década de 1980 movimentaram até 30 milhões de dólares, percentual que recuou para 30% nos anos 1990. Dito de outra forma: gradualmente as empresas de menor porte foram deixando de acessar o mercado acionário, abrindo espaço para as grandes. Uma explicação estaria no enfraquecimento da demanda pelo investimento em ações desse tipo de empresa, afirmam os autores do trabalho. Eles verificaram que, a partir de 1998, principalmente os grandes fundos passaram a perder o interesse nessas companhias, buscando montar carteiras menos pulverizadas e, por isso, de gestão menos complexa. Cenário parecido foi encontrado pelos pesquisadores do Credit Suisse, que traçaram o perfil atual da empresa aberta nos Estados Unidos: maior, mais velha e com maior propensão a distribuir proventos aos acionistas.
Ofertas heterodoxas
Embora tenham caído na série histórica, os IPOs nos Estados Unidos aumentaram de dois anos para cá. Dados da plataforma de informações financeiras Dealogic mostram a ocorrência de 189 IPOs na Bolsa de Nova York (Nyse) e na Nasdaq em 2017. Essas operações captaram 50 bilhões de dólares — volume que é praticamente o dobro do registrado no ano anterior (24,3 bilhões de dólares). De acordo com o levantamento “Global IPO Trends”, da EY, no primeiro semestre deste ano houve 101 aberturas de capital nessas bolsas, que corresponderam à injeção de 24,3 bilhões de dólares nas empresas. Na década de 1980, para se ter uma ideia, ocorriam, nos EUA, em média, 200 IPOs por ano. Em 1989, as bolsas americanas abrigaram 359 novas listagens, número que, dez anos depois, saltou para 603, segundo o levantamento do Credit Suisse.
É certo que algumas companhias ainda veem vantagens em abrir o capital. Seja porque os investimentos privados já não são suficientes para o seu crescimento ou porque consideram a bolsa de valores uma vitrine importante para os seus negócios. Tanto que empresas de tecnologia jovens e renomadas do mercado americano, como Google, LinkedIn, Amazon, Twitter e Spotify, não deixaram de abrir o capital. As bolsas do país também continuaram servindo de vitrine para companhias interessadas em exposição internacional de seus negócios. Não foi à toa que em 2014 o grupo de varejo chinês Alibaba escolheu a listagem na Nyse — captou 25 bilhões de dólares no que ainda é o maior IPO da história.
Cabe observar, entretanto, que alguns desses IPOs ofereceram condições pouco ortodoxas para o investidor — o que resultou, inclusive, em críticas às bolsas de valores. A escassez de IPOs e, consequentemente, da receita advinda das listagens, explicaria por que autorizaram ofertas que claramente ferem princípios de governança. No ano passado, por exemplo, a Snap, dona do popular aplicativo Snapchat, estreou bem na bolsa apesar de ter listado ações sem direito a voto — algo raro nos Estados Unidos. O Facebook já havia adotado expediente parecido, oferecendo ao público ações que tinham menos direitos de decisão do que as que ficaram em poder dos fundadores. Esse movimento evidencia a baixa disposição de alguns empreendedores de perder o controle dos seus negócios e de se expor demasiadamente à pressão dos investidores — especialmente daqueles imediatistas, que buscam altos retornos no curto prazo.
Culpa da regulação?
O tema regulação não poderia faltar numa discussão a respeito da mudança de perfil de um mercado acionário. Particularmente no caso americano, as companhias abertas iniciaram o século sob o peso da lei Sarbanes-Oxley, que apertou as exigências de supervisão interna para se evitar fraudes — especificamente, a repetição de escândalos contábeis como o que levou à bancarrota a gigante de energia Enron. Anos depois, em 2010, a Dodd-Frank criou diretrizes para atuação do mercado financeiro do país, mais uma vez em resposta a um episódio catastrófico — a crise de 2008, deflagrada por um desregulado sistema bancário. “Seria muito simplista dizer que empresas estão menos inclinadas a abrir o capital só por causa da lei. Muitas vêm se questionando se abrir o capital é financeiramente vantajoso para elas por várias razões — e custos de conformidade são apenas uma delas”, comentou o advogado Christopher Dodd na entrevista concedida à capital aberto em fevereiro de 2018.
“O fato de o Estado cobrar transparência serve justamente para equilibrar as relações entre as empresas e os investidores”, comenta Carlos Alberto Rebello, que por anos foi superintendente da Comissão de Valores Mobiliários brasileira e, mais recentemente, foi indicado pelo presidente Michel Temer para ocupar uma vaga no colegiado da autarquia.
Os próprios números derrubam a tese de que o aperto das normas nos Estados Unidos teria afastado as empresas das bolsas. Segundo o Credit Suisse, a quantidade de IPOs nas bolsas americanas já estava caindo mesmo antes da edição da Sarbanes-Oxley.
Ainda é cedo para falar em certezas, mas aparentemente a escolha de novos caminhos para investimentos e captação de recursos — mesmo em um mercado de ações com a tradição, a importância e o peso do americano — é sinal da chegada de uma nova era. Não parece ser coincidência uma realidade observada pelo instituto Gallup em pesquisa feita no ano passado com 2 mil americanos adultos. Apenas 37% tinham investimentos na bolsa, ante um percentual de 55% em 2001. A queda, segundo os autores do estudo, reflete a diminuição do apetite por risco do investidor. Após a crise financeira de 2008, muitas famílias de classe média, que compravam ações com foco no longo prazo, passaram a investir seu dinheiro em outros ativos. Mudam os tempos, mudam os interesses e os investimentos disponíveis para atendê-los. O mercado acionário, obviamente, não passa incólume a essas transformações.
Leia também
Lições do tempo: Nova safra de IPOs no Brasil reflete aprendizados dos anos de crise
Bancos pra quê? IPO do Spotify provoca debate sobre eventual obsolescência dessas instituições
Para continuar lendo, cadastre-se!
E ganhe acesso gratuito
a 3 conteúdos mensalmente.
Ou assine a partir de R$ 34,40/mês!
Você terá acesso permanente
e ilimitado ao portal, além de descontos
especiais em cursos e webinars.
User Login!
Você atingiu o limite de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês.
Faça agora uma assinatura e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre mercado de capitais
Ja é assinante? Clique aqui