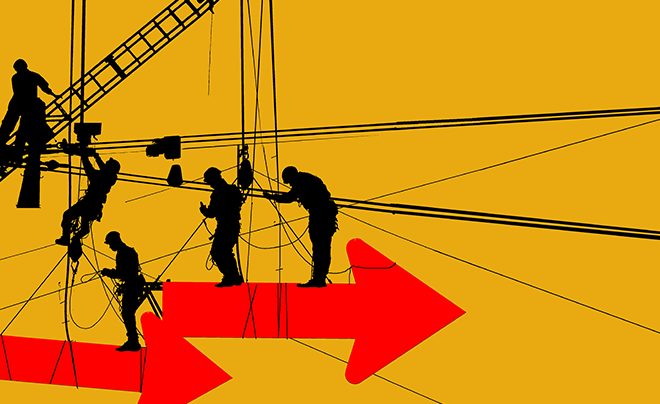
Ilustração: Beto Nejme / Grau 180
Raras vezes se viu no Brasil um setor ser içado e derrubado com tanta força e em tão pouco tempo quanto o da construção civil nos últimos anos. Entre 2004 e 2014, uma verdadeira enxurrada de recursos saiu das torneiras dos bancos para o financiamento de construtoras e dos compradores de imóveis, movimento sustentado pelo forte crescimento da economia e pela criação de leis que aumentaram a segurança jurídica das operações. Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram que os desembolsos para construção e aquisição de imóveis, considerando recursos da poupança e do FGTS, saltaram de R$ 7 bilhões para R$ 157 bilhões no período. A euforia igualmente turbinou o setor no mercado de capitais. Pelo menos 20 incorporadoras estrearam na bolsa a partir da segunda metade da década passada, com captação de cerca de R$ 11,4 bilhões. Na esteira desse boom, operações de securitização de recebíveis do setor dispararam — a Cetip registrava em 2014 um estoque de R$ 55,6 bilhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), o que representa uma expansão exponencial sobre os R$ 857 milhões de dez anos antes. A guinada dos rumos do Brasil, contudo, arrastou consigo toda essa cadeia de projetos e de capital: com o aprofundamento da recessão a partir de 2015, ruíram as bases que a sustentavam, deixando em polvorosa detentores de ações de construtoras e compradores de CRIs, papéis cujos lastros dependem da salubridade dos negócios.
Na bolsa, a situação é estarrecedora. Ações de renomadas incorporadoras praticamente viraram pó. De 1º janeiro de 2014 a 13 de fevereiro deste ano, as ações de Viver, PDG e Rossi caíram, respectivamente, 96%, 90,28% e 82,35%, tombos inimagináveis até há pouco tempo. Capitalizadas e estimuladas pela abundância de crédito, elas encheram o mercado de novos projetos. Apenas na região metropolitana de São Paulo, as unidades habitacionais lançadas por incorporadoras (de capital aberto e fechado) saltaram de 28,1 mil em 2004 para 70,7 mil no ápice da euforia, em 2010, segundo o Sindicato da Habitação (Secovi-SP).
A Lei 10.931/04 foi a grande impulsionadora do crescimento. Ela criou o patrimônio de afetação, que reúne os ativos e os passivos de cada empreendimento em diferentes sociedades de propósito específico (SPEs). O mecanismo impede, pelo menos em tese, que os recursos vinculados a um projeto sejam usados em outros da mesma empresa. A ideia era evitar a repetição de casos dramáticos como o da falida Encol — com o caixa todo misturado, a construtora deixou 700 obras inacabadas e prejudicou cerca de 40 mil famílias e um sem-número de credores no fim dos anos 1990. Além disso, Lei 10.931/04 reforçou, com regras específicas, o instrumento da alienação fiduciária, instituído pela Lei 9.514/97. Ela garante a posse do imóvel ao banco que concede o empréstimo até que o comprador quite a dívida — em caso de inadimplência, portanto, o imóvel pode ser recuperado rapidamente. No sistema de hipoteca, de maneira diversa, a retomada judicial do bem pode levar anos. “Essas mudanças fizeram com que o crédito imobiliário se desenvolvesse de forma consistente no Brasil. Mas depois que o País entrou em crise, os problemas começaram a surgir”, observa Rodrigo Luna, presidente da seção brasileira da Federação Internacional Imobiliária (Fiacbi-Brasil) e diretor do Secovi-SP.
O que assusta não é o fato de um setor ter entrado em crise acompanhando o passo da economia, e sim a proporção faraônica que os problemas assumiram no mercado imobiliário — em parte, em decorrência de erros estratégicos das próprias empresas. Ansiosas para mostrar resultados aos investidores, as incorporadoras de capital aberto se comprometeram a construir num ritmo superior à sua capacidade, o que inflou os preços de terrenos, insumos, mão de obra e, consequentemente, dos imóveis. O arranjo funcionou bem enquanto os compradores tinham emprego, dinheiro e crédito, e podiam pagar os valores cada vez mais altos dos sedutores lançamentos de casas e apartamentos. Mas a renda despencou com a recessão da economia, ficando cada vez mais difícil para os mutuários arcar com as dívidas assumidas. Não demorou muito para disparar o número de processos para retomada de imóveis por falta de pagamento. Principal agente financeiro do mercado, a Caixa retomou 15.881 imóveis no ano passado, alta de 81% em relação a 2015 e de 147% em comparação a 2014.
Atentos à mudança de direção, os bancos ficaram mais rigorosos; ao mesmo tempo, potenciais mutuários passaram a pensar duas vezes antes de assumir uma vultosa dívida de longo prazo. Os números comprovam: os recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SBPE) caíram de R$ 76,9 bilhões em 2013 para R$ 36 bilhões em 2016, segundo a Abecip. As vendas igualmente perderam força. Entre janeiro e setembro do ano passado, as incorporadoras de capital aberto venderam 43 mil unidades, ante 103 mil nos nove primeiros meses de 2013. Os lançamentos passaram, nessa comparação, de 73 mil para 38 mil, consequência da combinação de demanda menor com a elevação de estoques provocada pelo maior número de rompimentos de contratos de compra de imóveis na planta — os chamados distratos.
Avalanche de distratos
O crescimento dos distratos é um problema grave para o setor. Os cancelamentos acontecem não só porque os mutuários já não têm capacidade de pagamento, mas também pela percepção de desvalorização do bem. Com o desaquecimento do mercado, imóveis valem menos agora do que custavam há poucos anos. Segundo o índice FipeZap, em 2016 os preços dos imóveis em São Paulo, por exemplo, subiram menos que a inflação (0,41% contra 6,29% do IPCA).
Para as incorporadoras, os efeitos dos distratos são perversos. As devoluções prejudicam a gestão do fluxo de caixa e obrigam as empresas a vender um estoque maior em pleno ambiente de recessão. Tome-se a situação da Tecnisa, que desde 2013 contabiliza 7.707 contratos cancelados de um universo de 14.874 unidades vendidas — distratos que representam R$ 2,1 bilhões. “Para revender essas unidades, somos obrigados a ceder descontos, o que gera grandes perdas”, afirma Meyer Nigri, diretor presidente da Tecnisa. Entre janeiro e setembro do ano passado, a companhia acumulou prejuízo de R$ 197 milhões, depois de ter lucrado R$ 69,1 milhões em igual período de 2015. “Isso é resultado de uma legislação injusta, que incentiva os cancelamentos”, acrescenta, em referência à possibilidade de o desistente recuperar entre 75% e 90% do valor já pago — e com correção da inflação —, dependendo da decisão da Justiça.
O governo prepara medidas para regulamentar os distratos, previstas para sair ainda neste semestre. A intenção é fixar um percentual de ressarcimento, de forma a assegurar às empresas maior previsibilidade de desembolsos de caixa nessas situações. Há, ainda, planos para aperfeiçoamento da lei de alienação fiduciária (leia detalhes no quadro).
Corda no pescoço
O fôlego cada dia mais curto das incorporadoras pode também afetar credores e investidores de crédito privado do setor. Afinal, se o contexto econômico mudou de forma tão inesperada, podem igualmente mudar — por que não? — termos acertados no período de bonança, em detrimento da segurança jurídica que ironicamente impulsionou o mercado imobiliário entre 2004 e 2014. Em setembro do ano passado, a Viver pediu recuperação judicial com uma proposta que estremece as bases do patrimônio de afetação. Com dívidas de R$ 1,2 bilhão, a companhia pretendia incluir todos os seus empreendimentos, inclusive os amparados na garantia do patrimônio de afetação, num único processo de recuperação judicial. A Viver, para a sorte dos credores, não conseguiu emplacar a ideia. A Justiça determinou, em primeira instância, que a Viver apresente um plano de recuperação judicial para cada uma das 16 SPEs em que foi estabelecido o patrimônio de afetação e um outro para a holding e 48 empreendimentos que não contam com a proteção desse instrumento jurídico. Em 7 de fevereiro, a Viver divulgou que espera aprovar os planos ainda este ano e encerrar o ciclo de recuperação judicial em 2019.
Já a PDG — incorporadora que em 2010 tornou-se a maior do setor depois de ter adquirido concorrentes — levou, no dia 22 de fevereiro, seu pedido de recuperação judicial ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), motivada por dívidas que somam R$ 7,8 bilhões. Em 2015, a incorporadora iniciou um processo de reestruturação de dívidas que culminou na celebração de um acordo com Bradesco, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Votorantim. O esforço, contudo, não surtiu o efeito esperado, e a situação da companhia continuou se agravando por causa do número crescente de distratos e interrupções de obras, além de quedas nas vendas. Nos nove primeiros meses do ano passado, a receita operacional líquida da incorporadora somou apenas R$ 175 milhões, um valor irrisório frente aos seus compromissos com os credores. O prejuízo líquido de janeiro a setembro somou R$ 2,86 bilhões, 260% mais que o registrado em igual período de 2015.
Na Rossi a situação está mais controlada, mas igualmente gera preocupação. Com distratos de R$ 706 milhões no fim de setembro, a incorporadora teve prejuízo de R$ 427,4 milhões nos nove primeiros meses do ano passado, uma alta de 13,2%. A única boa notícia foi a renegociação, em março de 2016, do prazo de pagamento de cerca de 90% da dívida de R$ 1,04 bilhão que vencia até o final de 2017. A empresa agora tem até 2021 para cumprir os compromissos e conseguiu carência de um ano para pagamento de principal e juros.
Fluxo comprometido
Nesse quadro de dificuldades de caixa, é de se imaginar que também sofram os recebíveis das empresas e, com eles, os fluxos de pagamentos de CRIs. A PDG ilustra bem essa situação: sem caixa para honrar todos os seus compromissos financeiros, a companhia já repactuou três vezes os termos de emissão de R$ 250 milhões em CRIs da 15ª série da sua primeira emissão.
Na negociação, os detentores dos CRIs concordaram em adiar a data de vencimento do título de 21 de dezembro de 2016 para 28 de julho de 2020. Em contrapartida, exigiram da incorporadora o desembolso antecipado, a título de amortização parcial dos juros e do principal do saldo da dívida, de aproximadamente R$ 17 milhões, divididos em 12 prestações mensais. O primeiro pagamento estava previsto para o fim de janeiro, mas não foi feito. O calote fez a agência de classificação de risco Moody’s rebaixar os ratings dessa emissão da PDG de “Caa3” para “C” — o mais baixo patamar entre 21 notas. Na explicação da própria agência, o status representa “perspectiva extremamente fraca de atingir qualquer condição real de investimento”.
Sem caixa para honrar os compromissos financeiros, a PDG já repactuou três vezes os termos de uma emissão de R$ 250 milhões em CRIs
Agora, a PDG terá que negociar novamente os termos dessa emissão com os detentores dos CRIs. Com a recuperação judicial, o risco de crédito de certificados lastreados em recebíveis cedidos pela incorporadora aumentou consideravelmente, uma vez que boa parte das emissões tem como devedor final a própria PDG ou alguma empresa do grupo.
As repactuações envolvendo CRIs, segundo apurou a reportagem, têm se tornado cada vez mais corriqueiras entre as incorporadoras. “Os fluxos financeiros que constituem o lastro desses títulos estão bastante prejudicados. Consequentemente, há dificuldade de pagamento, com muitas renegociações e alguma inadimplência”, afirma Rodrigo Indiani, sócio da Liberum Ratings. Estruturadores das operações afirmam que os investidores têm aceitado renegociar os prazos, na expectativa de que os devedores recuperem sua capacidade financeira. “Há dois anos vivemos renegociando a curva de pagamento”, afirma uma fonte do setor. “Papéis que tinham até 12 meses de carência do pagamento do principal estão sendo repactuados, o que posterga a entrada dos recursos e estica os prazos de retorno dos investidores”, comenta outra fonte.
Seletividade
Não à toa, as emissões de CRIs caíram no ano passado ao menor patamar desde 2009, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Foram 114 operações em 2016, ante 147 em 2015 e 154 em 2014. Os tombos são resultado de dois fatores, basicamente. Primeiro, a redução do volume de lançamentos. “Quando a incorporadora cede uma carteira para securitização, faz isso pensando em obter recursos para investir em novos projetos, mas o mercado freou. Essa é a razão para existir menos negócios de securitização de incorporadoras”, explica o presidente da securitizadora Cibrasec, Onivaldo Scalco.
O segundo fator é a seletividade dos investidores, que têm dado preferência a emissões de certificados lastreados em recebíveis de nomes mais conhecidos e, pelo menos em teoria, com maior previsibilidade de pagamento. Algumas das maiores captações do ano passado foram de CRIs de BR Properties e Multiplan (ambas de R$ 300 milhões), Iguatemi (R$ 275 milhões) e MRV, Even e Cyrela (R$ 200 milhões cada uma). Na visão do gestor da Capitânia Arturo Profili, a crise do setor imobiliário deixou para a indústria de securitização a lição de não usar créditos de projetos que ainda não geram receita como lastro para emissões de CRIs. “As ofertas atuais têm formatos mais simples, com garantias mais bem definidas”, afirma Profili.
Se o risco dos recebíveis é muito alto, a remuneração do título para o qual servem de lastro precisa compensá-lo — difícil é no cenário atual fixar uma taxa que agrade ao mesmo tempo originadores e investidores, principalmente num cenário de taxa de juros elevada. “As incorporadoras que precisam de dinheiro e não têm alternativas de captação são obrigadas a oferecer um retorno muito alto e diversas garantias”, diz Eduardo Cazassa, sócio da consultoria New Estate, especializada em operações de estruturação para o mercado imobiliário. Ele fez um estudo e constatou que em média os CRIs oferecem remuneração 3,2 pontos percentuais superior à curva de juros de mercado (balizada pelo CDI). Nas emissões de CRIs com lastros residenciais, a taxa acima do CDI é ainda 1,4 ponto percentual maior que a observada para os casos de papéis com lastro no segmento de imóveis comerciais.
Garantias
A atual exigência de mais garantias contrasta com falta de cautela do investidor nos tempos de bonança do setor imobiliário. “Quando a situação ia bem, vimos colocações com proteções mínimas e até mesmo inexistentes”, recorda Arthur Moraes, especialista na área de produtos imobiliários. Sócio do escritório N,F&BC, Carlos Ferrari diz se lembrar, inclusive, da emissão de CRIs lastreados em recebíveis imobiliários sem proteção de alienação fiduciária. “Hoje não se desembolsa nem um real antes que todas as garantias sejam registradas e protocoladas em cartório”, ressalta.
Um dos mecanismos mais comuns para redução do risco do investimento em CRIs é a divisão da emissão em dois tipos de cotas: sêniores e subordinadas. Quem adquire a segunda categoria corre mais risco, já que, em caso de default, absorve um percentual predefinido de prejuízos primeiro. Só depois a perda residual é repassada aos detentores da cota sênior.
Outro reforço de crédito conhecido do mercado é o sobrecolateral. Ele funciona da seguinte forma: se uma emissão de R$ 100 de CRIs de uma securitizadora tem como lastro recebíveis no valor de R$ 110, a sobrecolateralização é de R$ 10 (ou 10%). No vencimento, após o pagamento de todos os títulos emitidos, o valor remanescente geralmente fica com o originador dos recebíveis. Segundo operadores do setor, nos últimos dois anos em média o percentual de sobrecolateralização passou de 15% para um intervalo entre 30% e 40%. O aumento é ruim para o originador do lastro do CRI, já que diminuiu a capacidade de captação.
Abutres
Se as garantias se esgotarem, e o calote for inevitável, o próximo passo é a execução dos recebíveis que lastreiam os títulos. Na busca de alternativas para monetizar esses ativos, alguns bancos têm firmado parceria com fundos “distressed” (de créditos estressados ou problemáticos), também conhecidos como “abutres”. As instituições financeiras oferecem para esses fundos carteiras com conjuntos de imóveis retomados para que possam revendê-los.
A operação se torna lucrativa para os fundos distressed depois que o imóvel retomado já passou por um primeiro leilão (quando é oferecido pelo preço de mercado) e não foi arrematado. Isso abre a possibilidade de ele ser vendido pelo valor da dívida bancária somado às despesas do processo de leilão. A chance, claro, atrai os abutres, famintos por um bom desconto. Mas enquanto esses fundos se refestelam com as carcaças do setor, resta a acionistas e detentores de CRIs juntar as migalhas de seus investimentos. Como de costume, quem se deixou levar pela euforia paga, agora, um preço caro pela imprudência.
Governo quer agilizar retomada de bem com alienação fiduciária
O governo começou a desenhar, em fevereiro, uma proposta de Medida Provisória (MP) para aperfeiçoar a Lei 9.514, que em 1997 instituiu a alienação fiduciária no País. O instrumento aumentou a segurança jurídica para concessão de crédito imobiliário por permitir que os bancos sejam proprietários de um imóvel até que o mutuário pague todas as parcelas do financiamento. Assim, em caso de inadimplência, em tese, as instituições financeiras poderiam apossar-se do bem rapidamente. O problema é que essa agilidade não tem acontecido.
Segundo Carlos Ferrari, sócio do escritório N,F&A, a alienação fiduciária deveria garantir a recuperação do imóvel num prazo máximo de seis meses. Porém, liminares emitidas por juízes de instâncias estaduais — que em alguns casos desconhecem os detalhes do instrumento — emperram os pedidos de execução da garantia, crescentes em decorrência da crise econômica. “Com isso, uma sentença final pode demorar até três anos”, critica Ferrari. O advogado observa que essa demora se traduz em prejuízos imensuráveis para o mercado imobiliário, à medida que gera insegurança para a concessão de empréstimos, já impactados negativamente pela crise. Segundo a Abecip, os financiamentos dos bancos para aquisição e construção com recursos da poupança recuaram 38% entre 2015 e 2016, para R$ 46,6 bilhões — o menor patamar desde 2009.
A insegurança em torno da alienação fiduciária preocupa o governo. Afinal, para incorporarem o risco de não terem de volta o imóvel dado como garantia, os bancos podem aumentar as taxas de juros para concessão de crédito imobiliário. Essa eventual alta pode emperrar a reativação do setor da construção civil, um dos principais empregadores do País. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) estima que o segmento perdeu 360 mil postos de trabalho em 2016.
Ciente desses problemas, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu, durante seminário em Brasília no dia 7 de fevereiro, alterações na lei da alienação fiduciária. Segundo ele, atualmente o devedor pode levantar “uma série de questões envolvendo avaliações, procedimentos e notificações” para evitar a retomada do imóvel.
Dados da Abecip atestam que a alienação fiduciária reduz drasticamente a inadimplência dos mutuários. Em dezembro do ano passado, apenas 1,8% dos clientes de bancos com empréstimos imobiliários garantidos por esse instrumento estavam inadimplentes, percentual que atingiu cerca de 9% no caso dos empréstimos garantidos por hipoteca (em que a posse do imóvel é transferida ao comprador no ato da assinatura do financiamento). (R.P.)
Para continuar lendo, cadastre-se!
E ganhe acesso gratuito
a 3 conteúdos mensalmente.
Ou assine a partir de R$ 34,40/mês!
Você terá acesso permanente
e ilimitado ao portal, além de descontos
especiais em cursos e webinars.
User Login!
Você atingiu o limite de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês.
Faça agora uma assinatura e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre mercado de capitais
Ja é assinante? Clique aqui











